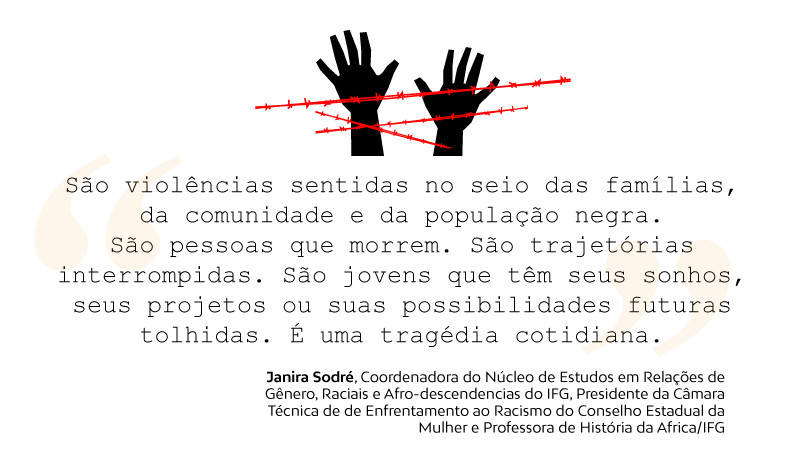Consciência Negra: mais que uma data, reflexão diária na luta contra o racismo
O intuito do dia 20 de novembro é reforçar a luta do povo e refletir a violência incessante que os negros sofrem diariamente

É difícil livrar-se de marcas que, muitas vezes, a vida insiste em deixar. Pior ainda quando essas lembranças e cicatrizes são passadas de geração a geração, pela sociedade, sem cessar. Essas situações são tão graves que atormentam o psicológico, o emocional, o físico e, em casos mais graves, levam à morte. Desde que o Brasil foi ocupado por europeus que traziam povos negros escravizados, há 519 anos, essa é a realidade enfrentada por pessoas com traços físicos que não são tidos como “padrão da sociedade”. Naquele período, o negro deixou o status de escravizado para ostentar o de liberto. No entanto, o fim da escravidão, com a Lei Áurea, não foi suficiente para desfazer diferenças históricas e sociais.
Muito mudou. Tecnologias foram criadas, formas de consumo transformadas e a comunicação foi revolucionada. Porém, uma série de retrocessos, como a negação da existência do racismo no Brasil, ainda persistem. Neste contexto, a celebração do 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, ganha ainda mais importância, como uma bandeira de valorização que precisa ser levantada. O Mais Goiás preparou uma matéria especial e trouxe histórias de quem sofre racismo por ter a pele preta.
De acordo com a historiadora negra da Universidade Estadual de Goiás (UEG), Lorena Borges, a história do negro do Brasil caminha junto com a da violência. Problema, segundo ela, intensificado pela exposição diuturna dessas pessoas a condições sub-humanas de vida e trabalho. Desde a escravidão, esse cenário provoca a paulatina censura social a costumes, crenças, danças e demais formas de expressão da população negra.
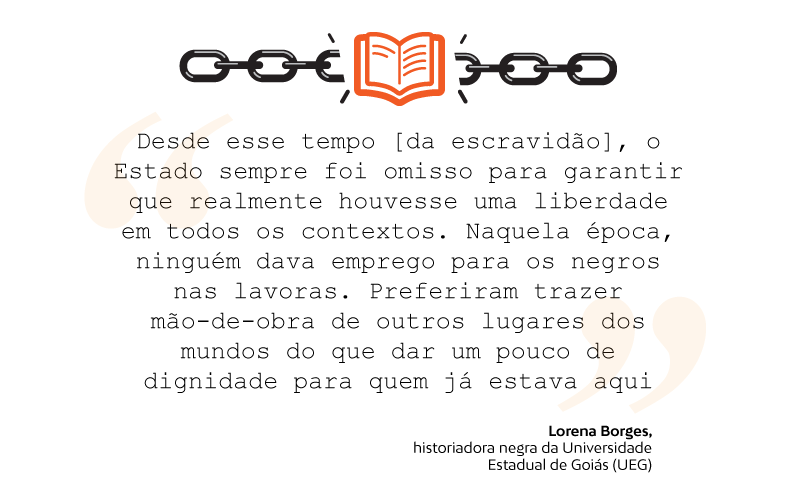
Marginalização
Reflexo disso, pontua Lorena, é a marginalização desse público, que tem menos acesso a direitos básicos como educação. Esse é um meio pelo qual seria possível a escalada social e a disputa por empregos com pagamentos mais altos. Hoje, porém, a taxa de desemprego entre pardos e negros é de 14,9%. Três pontos percentuais a mais que a média nacional, que é de 11,8%, conforme expõe a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad/IBGE).
Não bastasse o desemprego, as realidades salariais de brancos e negros também é grande. De acordo com a Pnad Contínua, em 2018, trabalhadores brancos recebiam, em média, 75% a mais do que pretos e pardos. Enquanto os primeiros recebiam salários médios de R$ 2.897, os segundos tinham rendimentos de R$ 1.636 a R$ 1.659. São mais de R$ 1,2 mil de diferença. Segundo a estudiosa, essa realidade ajuda a entender os números constatados por outra pesquisa: o Atlas da Violência.
A última versão, divulgada no início de 2019, aponta para um contexto de morte difícil de ignorar e que tem como vítimas mais comuns os negros. Somente em Goiás, 20.577 pessoas negras foram assassinadas entre 2007 a 2017, enquanto o número de não negros mortos não passou de 5.8 mil no mesmo período. Nacionalmente, a situação também é grave: mais de 460 mil negros foram mortos, em contraste com as 151 mil mortes violentas que fizeram vítimas de pele clara.

De vítima a suspeito
Sob a óptica da Segurança Pública, o hiato do que representa ser negro ou branco no país é evidente inclusive quando a pessoa de pele escura é a vítima. Antes da morte, outros estágios da violência são praticados contra as vítimas de racismo. Rodrigo Pereira, de 32 anos, sabe bem o que é isso. Hoje ele é professor de História, mas, há 13 anos, foi visto como traficante ou usuário de drogas quando pediu auxílio a uma viatura da Polícia Militar após ser vítima de assalto.
Depois de ter sido roubado, Rodrigo procurou a polícia, mas foi confundido com bandido. Para complicar, ele só foi liberado por que amigos branco o reconheceram para os policiais. O caso ocorreu no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia.
A história de Rodrigo é daquelas que tinha tudo para dar errado. Ele nasceu na periferia, perdeu o pai assassinado por dívidas de drogas quando tinha apenas três anos de idade. E boa parte dos amigos foram para o mundo do crime. Hoje professor, ele destaca que encontrou forças na Educação. A expectativa é de que, por meio dela, seja possível formar cidadãos capazes de construir um mundo melhor.
Mãe: superação
A mãe dele, Dona Abadia, de 55 anos, foi a principal responsável para que a história da família tomasse um rumo diferente. Apesar de todo apoio, Rodrigo afirma que o preconceito racial nunca foi situação isolada. “Ela [mãe] sempre dizia para mim que a educação era a única coisa que não tirava da gente. E lutei para isso. Não foi fácil. Sofri muito preconceito e sempre tinha o aspecto de inferioridade com a gente, mas, por ser criança, eu não percebia.”
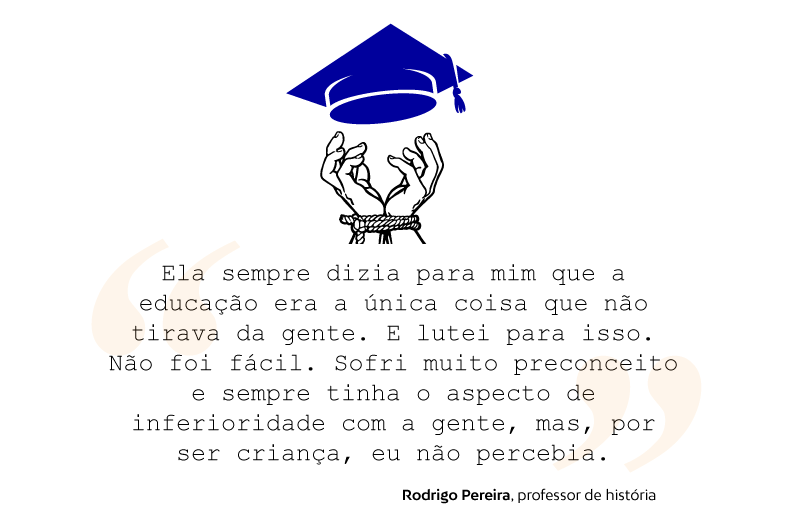
O professor ainda lembra que conseguiu perceber essa “diferença” quando era o único negro em tudo o que fosse fazer. Era preciso mostrar todo o potencial dentro de sala de aula para não se tornar “o mais feio, o mais burro ou a pessoa que não vai fazer sucesso.” E, quando seria o momento de colher os louros pelo empenho, nem tudo era positivo. A impressão que ficava era de que um negro alcançar sucesso em qualquer aspecto era sempre algo “exótico”.
Foi durante um seminário na disciplina de Geografia que Rodrigo teve a certeza de que era real a afirmação que sempre ouviu da mãe: ele podia, sim, chegar onde quisesse. Foi na sétima série. Mas a memória ainda é viva: colegas de sala e professora aplaudiram a apresentação do menino negro de pé. “Foi nesse momento que percebi que eu não precisava ser mais um dentro das estatísticas e que poderia me colocar em um lugar de destaque”, finaliza.
Música, Direito e Preconceito
Enquanto Rodrigo se fez ouvir pela educação, a música foi o veículo utilizado por Éder Porfírio Muniz, 31 anos. Ele encontrou no Rap o espaço para expor indignações. Também é conhecido como Rapper NB, ele estudou, se formou em Direito e atua como advogado.
Para se formar, a motivação encontrada foi a de provar que ninguém precisa desistir dos sonhos e que todos são capazes de alcançar os objetivos independente da cor, raça, credo ou orientação sexual. A busca por Justiça pulsava dentro de Éder, mas o espaço onde ela mais deveria ser colocada em prática acabou sendo palco de mais uma história de racismo: o Tribunal de Justiça.
Há pouco mais de dois aos, Éder fazia a defesa de um amigo em um processo de prisão por pensão alimentícia. Em determinado momento da audiência, a ex-esposa do cliente disse: “não sei como um advogado negro e bonito pode defender uma pessoa dessas”.
Como a fala da mulher foi registrada em ata, Éder conta que entrou com o processo e teve a causa ganha. Ele foi indenizado por danos morais e materiais. A fala da mulher se encaixou no crime de injúria racial, quando a pessoa é atacada de forma individual, seja ela pela cor, raça, crença ou orientação sexual.

Racismo
A diferença de injúria racial para racismo, explica o rapper e advogado, consiste na diferença entre indivíduo e coletivo. “Quando a pessoa é inferiorizada no coletivo devido à cor, raça, crença ou orientação sexua, o caso é de racismo. Esse é imprescritível, inafiançável e tem pena muito mais severa que o crime de injúria”, ressalta.
Nesse contexto, Éder traz para análise casos que viveu na infância, no Parque Atheneu, em Goiânia. “Sempre percebi reação das pessoas quando chegava a algum lugar. Num supermercado, uma mulher puxou e segurou a bolsa achando que eu iria roubá-la. Noutra vez, quando me aproximei de uma criança branca, os pais a chamaram para perto, como se eu fosse lhe fazer algum mal”.
Sem rodeios, ele afirma que a advocacia e o rap são duas formas de praticar a liberdade de expressão. O estilo musical é o combustível diário para a vida de jurista. E vice-versa. “O jovem negro não deve se preocupar com o que os outros estão pensando dele. Passe a se ver como uma pessoa séria e não ache que será recriminado. Faça valer o seu esforço e deixe que a pessoa perceba que uma sociedade só é legítima quando não tem distinção em nada. Assim, ela cairá na realidade que, quando ela age com preconceito, ela só não infringe apenas a lei, como infringe a ela mesma”, finaliza.
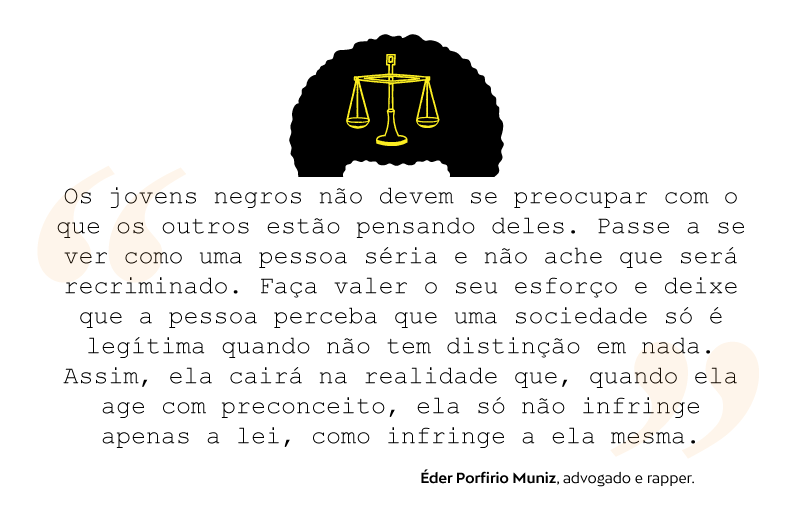
Voz aos excluídos
Apesar dos casos de Rodrigo e Éder, que escaparam da rota delineada pelo Atlas da Violência, a igualdade entre negros e não negros está longe de acontecer. É o que afirma a coordenadora do Núcleo de Estudos em Relações de Gênero, Raciais e Afro-descendências do Instituto Federal de Goiás (IFG), presidente da Câmara Técnica de de Enfrentamento ao Racismo do Conselho Estadual da Mulher e professora de História da África no IFG, Janira Sodré. Ela defende a necessidade de que negros se organizem para combater o preconceito e fazer valer, para si, direitos e o respeito que deveriam ser atribuídos a todo e qualquer cidadão.

“O movimento negro busca fazer com que alternativas de protagonismo negro sejam colocadas em prática e que haja uma existência negra, seja ela individual e coletiva, no campo político, social e cultural da sociedade”. No entanto, a busca desse público por reconhecimento esbarra em outro obstáculo histórico, segundo Janira. “É evidente que a mudança de lugar social dos negros implica não apenas na visibilidade dos privilégios dos não negros, mas também no compartilhamento de decisões e recursos. Isso é algo que a sociedade brasileira tem muita resistência. Por outro lado o movimento já se posiciona para superar a violência racial”, conclui.